O cocho dos porcos numa cozinha da Idade Moderna

Eu já não cresci com esta realidade. No ano do meu nascimento os meus pais compraram um fogão de ferro, que então estava na moda e permitia um cozinhar mais limpo e higiénico. Tinha ainda a vantagem de ter um forno sempre pronto para fazer inúmeras iguarias. Também tínhamos um fogão de gás que se usava para comidas mais rápidas. O Fogão de lenha tinha imbutidas duas panelas. Uma servia para ter sempre água quente disponível a outra servia para cozer a lavagem dos porcos. Este, não vivia próximo da cozinha. Estava um pouco mais afastado, mas não muito longe.
Mas esta é uma organização de uma casa do século XX. Nos séculos passados as cozinhas e os seus acessos eram bem diferentes, muito próximas da cozinha da minha avó.
Deixo as cozinhas familiares e entro numa cozinha monástica da Idade Moderna. As dinâmicas são diferentes. A cozinha do Mosteiro de Tibães, por exemplo, tem uma dimensão que quase se assemelha às nossas casas actuais. Tem uma ante-cozinha, que liga directamente ao Refeitório. Aqui se guardavam as louças, se localizam os fogões de pedra, que não são mais do que fogareiros imbutidos. No espaço central da cozinha está uma enorme lareira que nunca se apagava. Sobre a fogueira o caldeirão central, à volta as rodas dos presuntos e dos chouriços; do lado nascente as pias, onde haveria sempre água e onde se faziam as lavagens; do outro lado, virada a poente, a casa do forno. Ao centro está uma mesa de pedra para serviço de algumas refeições aos criados. Do lado poente, junto à porta de entrada, o cocho dos porcos. Já fora da cozinha encontramos uma pia para despejos e uma mesa para cortar as carnes e matar pequenos animais. Esta cozinha tinha ainda no seu interior um andar superior onde dormiria o cozinheiro.
Portanto, nesta cozinha viviam, num convívio diário, o cozinheiro e o porco. O mesmo acontecia em todas as outras cozinhas até ao século XX. Mais perto ou mais afastado, ou mesmo dentro da cozinha, o porco convivia com os seus donos e era naturalmente como os seus restos que se alimentava.
Esta realidade não foi assim entendida pelos arquitectos que nos últimos anos dirigiram as obras do Mosteiro de Tibães. Entendeu-se na altura que o porco não poderia ter estado dentro da cozinha. Apesar de ainda lá terem ficado as estruturas do espaço que lhe era reservado, foi interpretado como um uso posterior à extinção do Mosteiro, quando a cozinha deixou de cumprir todas as suas funções. O cocho dos porcos foi destruído.
Nesse entretanto, alguns documentos trouxeram a lume a realidade da sua existência junto da cozinha. É exemplo o Mosteiro de São Bento de Coimbra, onde, em 1758, se diz que o “curral dos porcos, que tem a pia junto da cozinha em forma que todas as lavages vão cahir nella e a outra parte tem hum postigo pera se barrer a cozinha e por elle lançar o sisco ao curral e os sobejos da hortaliça e de tudo o mais que pode servir aos porcos”. Mas não só o cocho dos porcos poderia estar dentro ou ao lado da cozinha. No Mosteiro de Alpendurada, pela mesma altura, fez-se no seu interior uma capoeira de madeira.
De facto, perante o conceito que hoje temos do que é uma cozinha e de como deve estar organizada, vai uma diferença abismal para com as cozinhas dos tempos mais antigos. Contudo, em nada se distanciavam do objectivo de apresentar à mesa uma comida “limpa e concertada”. Esse era e continua a ser o desafio!
Viúvas de Braga…sem filtros
Consultando os dicionários sobre o significado da palavra “comer” concluímos, naturalmente, que é o acto ou efeito de ingerir alimentos. Todavia, também sabemos que significa destruição porque, na verdade, destruímos tudo o que ingerimos. Por essa razão a palavra foi entrando na gíria popular em diferentes contextos e com um significado metafórico. Comem-se os políticos uns aos outros, às vezes em sessões públicas; comem-se as equipas de futebol – até os comemos -, diz-se por aí. Comem-se jesuítas, no sentido claro da destruição da Ordem, comem-se “viúvas”… Vem tudo isto a propósito de um doce, denominado “viúvas”, saído do convento feminino dos Remédios, edificado no centro de Braga em meados do século XVI. Inicialmente apelidavam-se “pasteis dos Remédios”, depois, por volta de 1766, a sociedade bracarense passou a chamá-lo por “viúvas” ou “viuvinhas”. E assim continuou até ao século XX, mesmo depois da extinção do convento, nos finais do século XIX, agora a confeccionar-se nas pastelarias da cidade.

Mas há uma pergunta que nos interpela: de onde vem esta denominação? Alguns relatos orais dizem-nos que nos inícios do século XX este doce era vendido pelas viúvas na festa do Espírito Santo. Era assim um “doce de viúvas”. Será que esta tradição já viria do século XVIII? Será que as freiras dos Remédios faziam das mulheres viúvas, economicamente mais frágeis, suas representantes comerciais na cidade de Braga, e, em particular, nas festas populares? É uma explicação para a qual não temos uma certeza absoluta. Mas, convenhamos que é uma boa explicação.
Seja como for, este doce teve grande sucesso comercial na segunda metade do século XVIII, especialmente nos conventos beneditinos masculinos, e também provavelmente nos restantes, embora desses não tenhamos conhecimento. Desde Tibães a Ganfei, junto à fronteira com a Galiza, passando por Miranda, nos Arcos de Valdevez, e indo até São Romão de Neiva, junto ao mar, em todos se comiam viúvas, especialmente na festa de São Bento, celebrada em Março e em Julho.
O novo moralismo do Estado Novo
No tempo do Estado Novo (1933-1974), um novo moralismo foi imposto à sociedade. O regime político instalado rapidamente criou um conjunto de códigos sociais que enfatizavam uma imagem de um país feliz, equilibrado, patriótico, com uma história de que se orgulhava, e com um vasto império que sentia e confluía no mesmo espírito agregador. Ora, nesta sociedade, que se pretendia modelada e feliz, sobressaíam normas morais e comportamentais, devidamente policiadas e controladas pelas diferentes forças de segurança. E é aqui que entram os doces que, desde os séculos anteriores, se foram popularizando com nomes e formas tendencialmente sexualizadas. Entre eles destaco os gonçalinhos de Amarante (em forma fálica), os manjares brancos de Coimbra (em forma de mama), ou as viúvas de Braga.
Esta sociedade, cinicamente moralista, rapidamente acabou com estas tradições doceiras. Bastava uma cartinha, muito provavelmente do Governo Civil, dirigida às pastelarias existentes na cidade, a proibir o fabrico. Terminava sempre com um solene “a bem da nação” e tudo ficava resolvido. Foi mais difícil, contudo, proibir as doceiras populares, que, por exemplo, faziam os gonçalinhos. O controlo policial chegava às festas e romarias, mas não impedia que as doceiras vendessem os doces nas suas próprias casas, às escondidas e fora do controlo policial.
No caso de Braga sabemos que era, e é, uma cidade clerical. A Roma de Portugal, como se passou a chamar no século XX. A presença deste doce pode, de facto, ter causado alguns incómodos sociais e dado origem a algumas brincadeiras jocosas sobre o significado metafórico da expressão “comer uma viúva”. O poder central incomodou-se e reagiu.
Ficava mal vista a cidade de Braga onde os clérigos, e não só, se refastelavam com… “viúvas”. É verdade que também havia os fidalguinhos, com que as senhoras se deliciavam ao chá. Mas esses ainda hoje não causam perturbação social. Porque será?
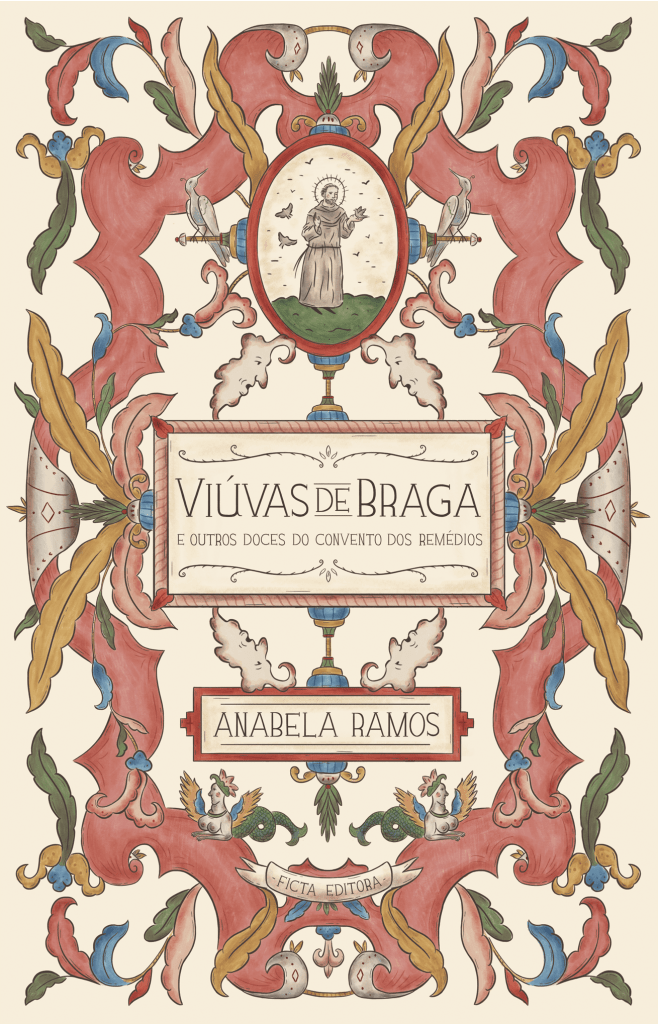
A nova era de viúvas
As viúvas caíram no esquecimento subsistindo, apenas, num ou noutro receituário. Em 2004 surgiu uma investigação histórica que as colocou novamente na praça pública. Recolheram-se as receitas antigas, e percebeu-se, com toda a certeza, que o doce nasceu no Convento dos Remédios. Fizeram-se provas. Publicou-se um livro com todas as receitas encontradas.
A comercialização começou lentamente a alavancar. Mas será que a cidade as voltaria a aceitar? É uma pergunta que contínua no ar…
Vendem-se já por aí em uma ou outra pastelaria, segundo as receitas mais antigas. Mas também há pasteleiros que recriaram novas receitas de viúvas. Feitas com massa folhada, recheadas com um creme de ovo e umas amêndoas palitadas à mistura. Uma novidade que não tem nada a ver com a massa das verdadeiras viúvas, feita a preceito com farinha e manteiga, muito menos com o recheio, constituído apenas com amêndoa, ovos e açúcar. São os novos tempos do fast e do mix pasteleiro, ao qual basta juntar água e já está pronto a rechear qualquer doce.
E neste vaivém de receitas e de heranças culturais percebemos uma certa resistência social a este doce, que, sendo bem feito e seguindo as receitas antigas, é uma pequena delícia. Apresenta-se em forma de chapéu de clérigo, porque, afinal, eram eles os principais clientes, e tem o tamanho, o sabor e a textura ideais para acompanhar uma chávena de chá, um café ou um cálice de vinho do Porto.
Um doce que está aí para desafiar os nossos preconceitos e os nossos moralismos. Porque afinal o “doce de viúvas” pode ter uma razão de existência bastante caritativa.
Atrevam-se a seguir as receitas, a meter as mãos na massa ou a procurá-las nas poucas pastelarias das cidade e… provar!

bolos de bacia
A Simone é brasileira. Vive há uns bons anos em Braga e diz que não tem saudades de voltar ao Brasil. Só da família. Um destes dias, enquanto me arranjava as unhas, fomos pelo Sertão adentro. Contou-me que nasceu e viveu no mato, enquanto criança. Falou-me da casa simples feita de adobe; dos banhos no rio; da noite escura, sem qualquer luz, porque era preciso poupar o querosene; do milho que se transformava em cuscuz para se comer ao pequeno almoço; da mandioca e da trabalheira que era transformá-la em farinha; das frutas que havia por todo lado, e que nós nem imaginamos os sabores e as variedades; das idas à feira, uma vez por mês, para vender fruta e comprar querosene; dos avós e em particular da avó, uma mulher dura que mandava em tudo, sofredora o suficiente para aguentar a vida no mato e o nascimento de 18 filhos; do apelido Rocha, quiçá, descendente de portugueses; das cobras que atormentavam o quotidiano, com o seu canto perturbador, e de uma anaconda que um dia resolveu enrolar-se numa mangueira centenária…
A conversa derivou para os doces
Mas falámos também dos doces. Não havia doces, dizia ela, só uma vez por mês quando iam à feira e o avô permitia a compra de quebra-queixo, um doce vendido em tabuleiro feito de coco e açúcar. Mas lá foi falando, também, do pé de moleque, que a avó fazia de vez em quando, um creme doce feito à base de leite de coco, ovos e farinha de mandioca, que ía a cozer ao forno embrulhado em folha de bananeira; da rapadura, feita com a cana de açúcar, tão dura que quase partia os dentes, e dos bolos de bacia feitos pela mãe, num tempo mais tardio, quando já viviam na cidade. Foi aqui que me deu um clique. Bolos de bacia? E como eram feitos? – perguntei. Eram uns bolinhos fritos feitos de farinha, leite, às vezes ovos, tudo amassado, colherada a colherada no óleo quente, e no final envolvidos em açúcar. Ora, desses também eu comi quando era criança, respondi-lhe. A minha mãe também fazia estes bolinhos, mas não lhe dava nome nenhum. Chamava-lhe simplesmente bolo fritos.
Um doce com história
Todavia, aquela denominação era-me familiar porque a encontro em receituários do século XVII e XVIII. Os bolos de bacia são uma espécie de bolo tradicional português de épocas mais antigas. A receita está registada no primeiro livro impresso de cozinha português, da autoria de Domingos Rodrigues, editado em 1680, mas encontramo-la também num outro receituário manuscrito, com data atribuída de meados do mesmo século, e na obra do espanhol Francisco Martinez Moutiño, editada pela primeira vez em 1611. E continua pelo século XVIII a ser anotada em outros receituários. Tudo isto nos faz perceber que já se fazem bolos de bacia desde o século XVI, sendo as receitas muito similares. Contudo, nada têm a ver com esta versão brasileira de finais do século XX.
Os tais bolos de bacia eram feitos com massa finta, esticada ao tamanho da bacia (tabuleiro), recheada com diferentes ingredientes, conforme as posses e as circunstâncias, em camadas alternadas de massa e recheio, e levada ao forno na dita bacia devidamente untada. Domingos Rodrigues, a cozinhar para a família real, sugere um recheio de amêndoa pisada, manjar branco e ovos moles. A receita de meados do século XVII apenas utiliza açúcar.
Ora, esta receita deve ter sido levada para o Brasil, numa altura em que os dois países eram um só, num abraço de duas vivências, bem diferentes, havendo uma clara troca de sabores e saberes. No Brasil do século XVII (e nos séculos seguintes) não abundava o trigo para fazer pão. Olhando o receituário brasileiro percebemos a existência de uns bolos de bacia à moda de Pernambuco, feitos com farinha de mandioca e coco. O nome manteve-se, mas a receita foi-se alterando à medida dos recursos existentes. Na região de Alagoas, nos anos 80, a mãe da Simone fazia uns bolos de bacia, com poucos recursos e sem irem ao forno. Um docinho com que alegrava o lanche das filhas. Nesta longa duração as receitas foram-se alterando porque as pessoas, os gostos e os recursos também mudaram. Em Portugal o nome e o doce perderam-se no tempo. O Brasil, porém, mantém esta tradição de continuar a usar palavras que os portugueses já esqueceram há muito.
Bolos de bacia, uma designação secular que fica bem num doce moderno! Um encontro de culturas e de identidades culinárias!
A Receita
Para quem quiser perder algum tempo na cozinha e depois refastelar-se com um docinho cheio de história:
Bolos de basia (1)
Tomarão massa de boum pão molete (2) quando está pera deitar no forno, e fasão folhas desta maneira: molharão hũa piquena de massa em manteiga derretida, e estenda-na quanto puderem com a mão, e então toma-las-ão duas molheres, e estenda-nas ambas com os dedos o mais delgado que puderem, e ponha-na em hũa bacia de fartens, e antre folha e folha lhe deitem por sima delas duas ou 3es culher[es] de asuquere posto em ponto com hũa piquena de manteiga, e isto a cada folha até que seja da grandeza que quiserem. E então leve-no a cozer ao forno, e coza de seu vagar até que se embeba o asuquere nele.
- ADV, manuscrito 142, fl. 59. Publicada em: Ramos, Anabela e Claro, Sara – Alimentar o corpo, saciar a alma: ritmos alimentares dos monges de Tibães, séc. XVII. DRCN, Afrontamento, 2013, p. 214.
- Pão de trigo, mole, fresco e pequeno, semelhante à actual carcaça ou papo-seco.
Hoje o dia está peneirado!
A língua portuguesa, apesar de a tratarmos tão mal, com acordos mal engendrados e pouco esclarecedores, é de uma riqueza infindável e permanentemente viva, com novas palavras que emergem diariamente e outras que vão entrando em desuso.
É desta riqueza que hoje venho falar porque um destes dias, numa manhã fria de Janeiro, ouvi a seguinte expressão a uma minhota de gema: “hoje o dia está peneirado”, referindo-se à geada que se tinha formado durante a noite e que tornava a paisagem branca como a farinha. Quando isto ouvi esbocei um sorriso pela beleza da expressão e, de imediato, o meu pensamento voou para alguém, qual figura alada, que, durante a noite, tivesse andado, montado num tapete voador ou numa nave espacial, com uma peneira e um saco de farinha a peneirar a terra. E tinha feito isto apenas porque lhe apetecia brincar, deixando os pobres terrestres a olhar o branco da paisagem e a tiritar de frio por uma horas, até vir o sol e, magicamente, desaparecer tudo até ao outro dia.

Esta expressão levou-me para o linguajar regional e das palavras novas que aprendi quando vim residir para o Minho. Ainda não estou enraizada, mas, de vez em quando, já digo, sem me aperceber, uma ou outra palavra ou…um palavrão! É que de tal modo são comuns por estas bandas que à custa de tanto os ouvirmos começam a ser-nos familiares. Mas, ao inverso, também aprendi a não dizer certas palavras e expressões, mais típicas da região beirã, para não deparar com o olhar interrogado de alguns.
Mas olhemos algumas diferenças do nosso linguajar. Comecemos pelo tempo meteorológico onde os minhotos têm algumas particularidades. Habituados a um clima mais ameno chamam “neve” à geada, e ao granizo, que nós chamamos “saraiva”, exageram um pouco e vem daí “pedraça”. Quando faz aguaceiros, entendem que há “chuveiros” e quando troveja dizem que “trovoa”.
Para se referirem aos miúdos chamam-lhe “canalha”, o que para nós é um insulto, e a franja do cabelo são as “rêpas”. Na Beira “rêpas” é um cabelo mal penteado, por isso nunca disse no cabeleireiro que queria cortar as “rêpas”, sinto até algum pudor em utilizar a palavra. Assim como também ainda não consigo dizer “passador”, em vez do “travessão” ou gancho do cabelo.
Na linguagem gastronómica também nos diferenciamos. Por exemplo, na Beira diz-se que o pão está “ressesso”, palavra que ninguém conhece no Minho. Aqui dizem que o pão é “atrasado”. Ao comprar alfaces no mercado deparo-me com a expressão genérica de “salada” ou “selada”, mais popular. As abóboras são “cabaças” ou jerimus e o arroz malandro aqui é “arroz fresco”, a fugir pelo prato fora como deve ser! O “chícharo” aqui vira “feijão-galego” ou “miúdo” e no resto do país feijão-frade, palavra que agora se vai generalizando. Atenção que o chícharo noutras regiões é outra variedade de feijão! Mas também não me esqueço que o “conduto”, ou seja, o prato que se segue à sopa, por cá denomina-se “presigo”. E nós, beirões, quando queremos descascar umas batatas usamos, no nosso linguajar mais popular, a palavra “esbrugar”, assim como “caldeiro” para designar balde, palavras que vão caindo em desuso.
Se falarmos dos ramos das árvores, pernadas ou cavacos, aqui temos que lhes chamar “canos” e as cavacas assumem a denominação de “canhotas”. Vai daí também a caruma vira “pruma”.
Com os meus filhos também aprendi alguma linguagem escolar. As “burronas” são as nossas canetas de feltro e as “safas” são as borrachas. Quando se brinca à apanhada não se diz “apanhei-te” mas “cacei-te”.
E a propósito de crianças lembrei-me das festas de anos. Os meus filhos habituados, desde muito pequenos, a comemorar o aniversário na escola, deles e dos colegas, diziam com toda a naturalidade que estavam a “bufar“ às velas, ou seja, “soprar”. E eu corrigia: diz “sopra” porque “bufa” é outra coisa….! A língua portuguesa é muito traiçoeira!

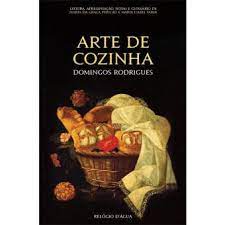

Comentários Recentes